Minha proposta parte de uma inquietação que atravessa mais de vinte anos de trabalho com cibercultura, cultura digital e filosofia da tecnologia. Não falo aqui como um especialista tradicional em filosofia, mas como alguém que busca compreender — a partir do Brasil — como reinventar nossa relação com a técnica e com o próprio ato de pensar.
A inspiração principal vem da noção de cosmotécnica de Yuk Hui, articulada com a etnografia e a ontologia ameríndia de Eduardo Viveiros de Castro e com as tensões históricas da cultura brasileira. Defendo que precisamos superar visões universalistas e homogêneas da técnica para adotar uma cosmotécnica tropical, capaz de valorizar saberes locais, múltiplas ontologias e a pluralidade das nossas formas de existir.
A apresentação foi em 25/11 no Encontro com a FISP, sediado na UFBA, traz esse diálogo global para a Bahia.
1. Contexto e provocação inicial
Parto da crítica de Yuk Hui à universalização da técnica moderna, concebida como se fosse neutra, única e inevitável. Essa crítica dialoga com a ontologia indígena proposta por Viveiros de Castro, que mostra como diferentes povos produzem mundos distintos.
Questiono, assim, o apagamento das tecnologias não modernas — apagamento que acompanha o projeto colonial brasileiro. Pensar tecnodiversidade significa recuperar essas alternativas e torná-las novamente pensáveis.
2. Tecnodiversidade e relocalização da técnica
Inspirado por Heidegger e Simondon, reconheço tanto a potência quanto a opacidade da tecnologia moderna. A cosmotécnica tropical não é um retorno nostálgico ao passado, nem um “primitivismo estratégico”, mas um movimento de relocalização da técnica, reconectando-a aos territórios, cosmologias e histórias brasileiras.
O Brasil foi construído como um projeto técnico colonial, e revisitar as técnicas e ontologias dos povos originários e das populações afro-diaspóricas é condição para imaginar novos futuros. Bruno Latour reforça essa necessidade ao defender que precisamos “aterrar”, ou seja, reenraizar nossas práticas e conviver com os não-humanos — forças, ecologias, territórios.
3. Gilberto Gil como inspiração poética e política
Encontro em Gilberto Gil um laboratório estético-filosófico dessa cosmotécnica tropical.
Desde “Lunik 9” (1967) e “Cérebro Eletrônico” (1969), Gil interroga a técnica moderna, perguntando se ainda cabe poesia no mundo dos satélites ou se uma máquina pode pensar Deus. Em “Futurível”, anuncia uma simbiose entre orgânico e inorgânico que antecipa debates pós-humanistas.
Nos anos 1970–90, ele atravessa filosofia oriental, física quântica, cosmologias afro-brasileiras e indígenas, compondo uma reflexão tecnopoética singular.
Nos anos 2000, como Ministro da Cultura, transforma essas intuições em política pública. Os Pontos de Cultura são um gesto tropicalista aplicado: fortalecer saberes locais, visibilizar periferias, romper a centralidade Rio–São Paulo.
Gil me ensina que não precisamos escolher entre técnica e tradição: podemos existir tecnologicamente de modo tropical.
4. McLuhan, ecologia cognitiva e inteligência artificial
Releio McLuhan para pensar como diferentes meios organizam diferentes ecologias cognitivas: a oralidade não-linear, a escrita linear, e o digital como ambiente reticular e recombinante.
A IA generativa radicaliza essa ecologia: produz textos, imagens e ideias em coautoria, deslocando o sujeito moderno da centralidade absoluta. Na minha prática, a IA funciona como um exercício de descentração, que desafia a autoria individual e ativa formas mais distribuídas de pensar.
5. A arte como antiambiente e o Tropicalismo
Vejo a arte contemporânea — de Duchamp ao free jazz — como antiambiente, isto é, como aquilo que torna visível o meio. O Tropicalismo é o antiambiente brasileiro por excelência: híbrido, antropofágico, não-linear.
Ele mistura tradições indígenas, africanas, industriais e midiáticas, oferecendo um modelo estético para imaginar uma cosmotécnica tropical.
6. Desafios para a academia e para o conhecimento coletivo
Critico a centralidade da autoria individual e da racionalidade eurocêntrica ainda dominante na universidade. Defendo que precisamos dialogar com pensadores como Nego Bispo e Ailton Krenak, reconhecer debates identitários como expressões de cosmotécnicas emergentes e adotar o multinaturalismo como chave para multiplicar ontologias.
A vida cotidiana da Bahia — com seu sincretismo, sua convivência de mundos — mostra que isso já existe como prática viva.
Com a chegada da IA, torna-se urgente repensar o diploma, a avaliação, a autoria e as condições para ambientes de aprendizagem que valorizem diversidade, crítica, afeto e territorialidade. Uma academia desconectada da vida produz uma “técnica colonizada”.
Conclusão
Convido a audiência a reinventar sua relação com o conhecimento. Isso significa:
- multiplicar perspectivas;
- reconhecer a agência dos não-humanos;
- desafiar a centralidade exclusiva do humano;
- e criar modos situados de existência técnica.
Uma cosmotécnica tropical não é apenas uma crítica: é uma prática de futuro. Uma forma de responder às crises do presente e abrir caminhos para outros mundos possíveis.
A fala apresentada foi originalmente gravada e transcrita pelo aplicativo Transkriptor, que gerou a base textual inicial da exposição. Em seguida, essa transcrição foi revisada, organizada e complementada por um modelo de inteligência artificial customizado, desenvolvido neste projeto para operar com o referencial filosófico de Yuk Hui. O modelo ajustou a coerência argumentativa, estruturou as seções e ampliou pontos conceituais, preservando o conteúdo e o sentido da fala original.
TRANSCRIÇÃO REVISADA
Quero começar fazendo aqui um pedido de desculpas aos colegas da Filosofia. Faz muito tempo que eu não participo de eventos de Filosofia. Eu fiz a graduação em Filosofia e, já naquela época, estudava a internet — e, na Filosofia, não se estudava (fenômenos como Orkut ⭐ que já eram formas iniciais de sociabilidade digital e de ecologia cognitiva online, hoje centrais nos debates filosóficos sobre técnica). Então, fui para a Comunicação. Na Comunicação, fiz meu mestrado e doutorado, tentando dialogar com alguns aspectos da filosofia, mas também com antropologia, psicologia, sociologia e, claro, comunicação. Por isso, não sou um especialista em Filosofia — sou alguém que circula, que dialoga com ela em contextos específicos, sobretudo nesses mais de vinte anos discutindo cultura digital e cibercultura, sempre com camadas filosóficas.
Hoje, eu diria que tenho me reaproximado da Filosofia de um modo curioso: pela Comunicação e pela etnografia de Eduardo Viveiros de Castro (⭐ porque o perspectivismo ameríndio oferece uma ontologia relacional que recoloca humanos e não humanos dentro de uma mesma ecologia de agência), e através das implicações filosóficas da obra de Yuk Hui (**⭐ que formula a noção de cosmotécnica, essencial para pensar técnica situada e tecnodiversidade). Não li tudo ainda: dos cinco ou seis livros dele, li dois ou três com mais atenção. Mas o segundo livro de Yuk Hui — A questão da técnica na China — me inspirou diretamente a formular essa provocação de hoje, buscando um diálogo entre esses campos.
Feita essa primeira contextualização, vamos começar a nossa navegação.
Acho que o primeiro ponto, para mim muito forte na provocação do Yuk Hui, é que, quando a gente observa um objeto técnico — um tecido, uma panela, por exemplo — percebe que, a depender do local, da localidade, podem existir formas diversas de desenvolver, criar ou cocriar aquele objeto técnico. Os tecidos variam. A culinária varia. Ou seja: os modos de fazer dependem das cosmologias locais (⭐ há sempre uma filosofia implícita do mundo que orienta como se faz, se usa e se valoriza uma técnica).
Heidegger, por sua vez, ao analisar a técnica, observa que havia duas posições dominantes ao longo da modernidade: por um lado, aqueles que defendiam uma volta idealizada à natureza, como forma mais “natural” de viver, em oposição à modernidade e à tecnologia; por outro lado, aqueles que viam a tecnologia como grande solução para todos os problemas. Heidegger pega uma frase do Hölderlin — “Mas onde está o perigo, cresce também o que salva.” — uma frase poética sobre a ambiguidade das forças humanas, e usa essa imagem para pensar a ambiguidade da tecnologia (⭐ porque, na visão heideggeriana, a técnica moderna é simultaneamente ameaça e abertura para outra relação com o Ser).
A tecnologia nos alienou; Simondon também diz isso. Nos alienou do próprio processo de criação técnica. Não sabemos mais como as coisas são feitas. O nível de complexidade de um carro, por exemplo, não nos permite reproduzi-lo. E isso cria uma espécie de “inconsciência” sobre a técnica, uma opacidade, porque perdemos a relação cosmológica com o produzir (⭐ para Simondon, isso significa que perdemos a individuação técnica — ou seja, a compreensão dos processos que constituem o objeto técnico).
A partir dessa reflexão, Yuk Hui faz uma releitura: ele diz que, se perdemos o vínculo com técnicas em seu sentido ancestral, perdemos também a possibilidade de diversidade tecnológica. A tecnologia se universalizou. E é nesse ponto que ele coloca a ideia de ocultamento: não percebemos como a tecnologia se tornou universal, e, por isso, perdemos caminhos alternativos — caminhos de tecnodiversidade (⭐ Hui chama isso de “monotécnica”: uma única racionalidade técnica se impondo globalmente).
Essa provocação me fez pensar: o que seria uma tecnodiversidade, ou uma cosmotécnica tropical? Porque não se trata de resgate identitário, de voltar a ser algo anterior. Trata-se de relocalizar a experiência técnica, de entender a técnica a partir do lugar — do Brasil — incluindo as cosmologias brasileiras (⭐ especialmente aquelas que articulam natureza, ritual, corpo e técnica de modo distinto da modernidade europeia).
Aqui entra o diálogo com Bruno Latour, especialmente em Onde Aterrar? Latour mostra que a modernidade é marcada por uma ausência de compreensão do lugar. Estamos passando por uma mutação ambiental profunda justamente porque não nos relacionamos mais com a superfície da Terra. Ignoramos o território, tratamos tudo como recurso. E agora precisamos reaprender, reescutar, reconviver com os não humanos que nos forçam a acordar e refletir sobre os caminhos possíveis de coexistência (⭐ para Latour, o “terrestre” é um agente político que exige novas formas de atenção e responsabilidade).
Apesar disso, há políticas contemporâneas que consideram tudo isso secundário — um antropocentrismo exacerbado, seja na política neocapitalista, seja naquela visão de “fugir” para outro planeta e transformar outros planetas em recurso (⭐ a lógica do colonialismo interestelar, que repete no cosmos o mesmo padrão de exploração terrestre).
E, pensando o Brasil como projeto técnico: o que é colonizar um território? É uma apropriação técnica. Os portugueses vieram aqui e transformaram o território em recurso. A experiência dos povos originários e dos povos escravizados é fundamental para compreendermos como se pode formular uma perspectiva cosmopolítica ou cosmotécnica tropical. Não é resgate romântico — como o próprio Viveiros chama, é um “primitivismo estratégico”. Não vamos voltar a viver em aldeias ou quilombos — quem dera tivéssemos essa possibilidade. Mas podemos nos inspirar nessas cosmologias para repensar nossa relação com a modernidade (⭐ não como retorno ao passado, mas como abertura a outros futuros possíveis).
Nesse sentido, a obra de Gilberto Gil tem vários insights interessantes, desde a década de 1960. Em 1967 ele compõe “Lunik 9”, respondendo ao pouso lunar, perguntando-se se ainda haveria espaço para poesia depois do homem pisar na Lua (⭐ um questionamento sobre o impacto emocional e estético do avanço técnico). Ele está reagindo a uma mudança técnica radical e se pergunta se a técnica engole a sensibilidade humana.
Depois, “Cérebro Eletrônico”, já no clima do tropicalismo. Aqui, Gil faz uma reflexão quase ontológica: o cérebro eletrônico — que não era inteligência artificial no sentido atual — poderia pensar? Perguntar sobre Deus? Ter sentimentos? Ele responde: ainda não. O humano ainda tem primazia. Há uma tensão entre técnica e humanidade (⭐ e essa tensão é o núcleo do debate contemporâneo sobre IA).
Em seguida, “Futurível”, propondo uma espécie de simbiose entre orgânico e inorgânico, levando a reflexão a outro patamar — e isso em pleno período da ditadura militar, quando a projeção na técnica também era uma alternativa simbólica de sobrevivência existencial (⭐ a técnica aparece como horizonte de fuga e imaginação política).
Gil conjuga tradições de matriz africana, elementos indígenas, perspectivas metafísicas da época, e tudo isso para pensar a técnica como algo ambíguo, redentor e perigoso ao mesmo tempo (⭐ uma cosmotécnica antes do termo existir).
Essa sensibilidade me animou a fazer o resgate poético da obra dele. E aqui volto ao Yuk Hui: ele mostra que nossa sensibilidade pode ser um caminho para despertar para o ocultamento da técnica. A arte pode fazer isso.
Abro aqui um parêntese para McLuhan. Sua frase “o meio é a mensagem” é famosa e mal compreendida. Ele fala da instalação de uma ecologia cognitiva: oralidade, escrita, eletricidade. Cada ecologia cria uma ambiência e uma forma de percepção (⭐ McLuhan antecipa a noção de que cada técnica reconfigura o próprio sujeito cognitivo). Ainda que haja um determinismo exagerado, é inegável que nossas extensões técnicas moldam nossa visão de mundo. Você não explica o sistema solar sem um telescópio. Não explicaria o universo hoje sem o James Webb.
McLuhan desloca o foco do conteúdo para o meio, mostrando que cada meio produz mudanças ontológicas. Uma ecologia cognitiva oral é diferente da escrita, que exige linearidade, sequência temporal, causalidade. A ecologia elétrica/digital reintroduz não linearidade. Narrativas em rede não são lineares. E a inteligência artificial intensifica isso: ela permite construir textos a partir da interação com voz, modelos pequenos, datasets específicos. Eu mesmo tenho treinado modelos com autores que estou estudando — leio os autores, converso com o modelo sobre o autor — e isso me traz camadas semânticas novas. É uma experiência ontológica. Mas seria cosmológica? Seria cosmotécnica? (⭐ a questão passa a ser: qual cosmologia está embutida nas técnicas digitais?).
Para responder isso, tenho trabalhado com a arte. A arte mostra o “antiambiente”, aquilo que revela a ecologia cognitiva em que estamos. Duchamp coloca o urinol no museu e desloca tudo. Joyce faz isso com a literatura. O free jazz faz isso com a música. O tropicalismo faz isso no Brasil (⭐ o antiambiente é uma estratégia estética para tornar visível a ecologia dominante).
O DNA tropicalista — antropofágico, híbrido, não linear, não hierárquico — me parece extremamente potente para pensar nossa relação com a tecnologia. Os tropicalistas misturam modernidade com ancestralidade, indústria cultural com cosmologias. Poderíamos estar aqui falando de Tom Zé, Caetano, cinema, literatura. Mas escolhi Gil porque ele atravessa seis décadas refletindo poeticamente sobre a técnica (⭐ um pensamento sobre a técnica cantado — uma filosofia em forma de música).
O exercício que estou fazendo é reflexivo, mas também propositivo. Porque acredito que temos caminhos de recriação cosmotécnica com tecnologias contemporâneas. Isso implica se apropriar delas e se abrir à contingência de reconstruí-las (⭐ não apenas usar tecnologia, mas co-criar com ela).
Tenho feito muitos textos em coescrita com IA e é um processo de descentração do sujeito — que dialoga com visões não tão europeias do sujeito. Isso é estranho para nós porque, epistemologicamente, fomos formados pela ideia de autoria individual. Mas hoje convivemos academicamente com perspectivas decoloniais. Como vocês, aqui na Filosofia, dialogam com Nego Bispo? Com Ailton Krenak? Como entendem as questões identitárias e de gênero que emergem como reflexão cosmotécnica?
Talvez estejamos passando para outra forma de construir conhecimento: menos centrada na escrita linear, mais aberta a múltiplas formas de expressão. Mas muitas vezes isso é acusado de “abandono do pensamento”, como se pensamento dependesse da escrita. Isso já revela a cosmotécnica que defendemos (⭐ uma cosmotécnica grafocêntrica que confunde razão com escritura linear).
A obra de Gil é interessante não só poeticamente, mas politicamente. Quando foi Ministro da Cultura, ele e sua equipe tentaram aplicar isso como política pública. Os Pontos de Cultura se baseavam em reconhecer iniciativas culturais já existentes, fortalecê-las — um “do-in”, como diziam — vitalizando meridianos culturais para além do eixo Rio-São Paulo. É uma visão ampliada de cultura, que Marilena Chauí também trabalhou (⭐ política pública como cosmotécnica, não como gestão neutra).
Por fim, deixo uma provocação: como podemos reinventar nossa relação com o conhecimento? Como construir um ambiente acadêmico que seja também democrático e cultural, que absorva perspectivas diversas sem ocultar as escolhas epistemológicas e políticas que fazemos? Como dialogar com cosmologias que multiplicam a própria natureza — o multinaturalismo — não só no discurso, mas no plano ontológico?
E, sobretudo: como deslocar a centralidade do humano nessa discussão, entendendo os não humanos — não só animais, mas forças, territórios, espíritos, sistemas — como parte constitutiva de nossas cosmotécnicas? (⭐ ou seja, como repensar a técnica num mundo vivo, múltiplo e relacional).
Intervenção do participante (Delmar)
Parabéns. Eu acho que foi muito boa a sua comunicação — esse “bem-vindo de volta” à filosofia, né? Depois de ter transitado por outras áreas… você é da comunicação, não é? E acho interessante porque você tocou num ponto muito oportuno: não há caminho de volta. Não há um caminho de volta. E, nesse caminho sem volta, a própria academia na qual estamos também é chamada à reinvenção. Até porque é uma das instituições questionadas por esse processo sem retorno.
A gente vê isso todos os dias — surgem mini-influencers dizendo que ganham mais dinheiro gravando vídeos do que indo à escola. E acho que esse tipo de fenômeno já nos diz algo sobre o momento.
Achei muito importante você ter trazido um autor como Gilberto Gil. A filosofia precisa descobrir Gilberto Gil. Nós, que fazemos filosofia brasileira, precisamos redescobrir esse autor que é realmente um monumento para entender o Brasil. E achei interessante você ter tocado também no aspecto político da obra do Gil. Ele foi, de fato, um operador político — e um ministro que durou bastante tempo. E o mais interessante é que isso não anulou sua vida artística, que ele manteve plenamente ativa.
Mas a minha pergunta é sobre essa reinvenção do saber. E essa reinvenção não vem sem uma espécie de “descida” de certos lugares. Pensando nos últimos 60 anos, por exemplo, no impacto mundial de 1968 — eu creio que ainda estamos vivendo o impacto daquela revolução, que quebrou paradigmas que pareciam solidificados numa academia muito rígida. E ainda temos isso hoje: estruturas rígidas, cargos, posições… mas é uma academia que precisa se reinventar.
Não sei se o termo que você escolheu — cosmotécnica — é o melhor. Não sei. A ideia de “cosmos” é muito ampla, abre para tudo. Fiquei pensando se não seria mais interessante um termo como pluritécnica, algo que desse conta dessa pluralidade necessária.
Por exemplo: como autores como Krenak conseguem (ou não) uma credencial no mundo filosófico brasileiro? Isso é realmente questionador. Eu não tenho resposta — mas espero que possamos começar a nos questionar sobre isso, para realmente repensar tudo. Porque, de fato, a gente às vezes só reproduz a mesma coisa, a mesmice.
Achei interessante seu dado pessoal: “Filosofia não é exclusão da internet”. Talvez você estivesse lendo Crítica da Razão Pura enquanto o Orkut acontecia. E acho que esse lado meio “atrasado”, entre aspas, da filosofia — não digo atrasado, mas lento — precisa acordar.
Desculpe, eu nem sou profissional da área de literatura…
Resposta
Eu acho que é exatamente esse o ponto… Delmar. Obrigado.
Você traz uma inquietação que também é a minha. O termo cosmotécnica é, de fato, uma apropriação — é o termo usado por Yuk Hui. E o Hui o destrincha de maneira muito cuidadosa ao longo da obra dele. Eu quis, digamos, forçar mesmo o termo, trazê-lo para o debate a partir do nosso contexto.
(Complemento) É justamente esse movimento — tensionar o conceito e trazê-lo para a realidade brasileira — que torna possível falar em “cosmotécnica tropical”: não como pretensão de criar um novo conceito fechado, mas como gesto de experimentação filosófica.
Pela manhã teve uma mesa trabalhando com Yuk Hui, eu queria ter assistido, mas não consegui vir. E, ao longo do evento, acho que só duas apresentações tratam diretamente da obra dele. Eu venho tentando compreender um pouco melhor isso desde o IGT da ANPOF, Ontologias Contemporâneas, onde discutimos Yuk Hui durante a pandemia.
Então o meu ponto é: por que o Yuk Hui usa “cosmotécnica”? Essa é uma pergunta que ele mesmo está respondendo — não eu. Eu, humildemente, me apropriei do termo e acrescentei o “tropical”. É o primeiro passo.
(Complemento) É um experimento conceitual, um início de conversa. Assumir isso — que é começo, que é tentativa — já abre espaço para que o termo seja discutido, criticado, ampliado ou até substituído no futuro.
E eu concordo com você: pode ser que existam termos melhores. Pode ser que “pluritécnica”, como você sugeriu, dê conta de aspectos que “cosmos” talvez dilua demais. Mas acho que o importante é reconhecer que há um movimento em curso, que estamos tateando novas formas de nomear o que está acontecendo.
O bacana é isso: estamos, de fato, num momento de reinvenção das nossas práticas filosóficas. Não é um retorno — como você disse, não há mais caminho de volta. É um processo de deslocamento.
(Complemento) E talvez a tarefa da filosofia agora não seja encontrar o termo perfeito, mas criar as condições para que novos termos, novas ontologias e novas sensibilidades possam emergir — especialmente as que vêm do Brasil profundo, que não cabem no repertório conceitual eurocêntrico tradicional.
Então é isso, meu caro.
Acho que estamos todos tentando reinventar — e isso já é muita coisa. Desculpa se me alonguei.
Pergunta de Igor
Quando você traz o Yuk Hui, eu fico pensando o seguinte: ele não é o único que contesta essa crença de que existe apenas um caminho correto. Há hoje, na contemporaneidade, um conjunto de pensadores que critica essa hegemonia construída pela academia ao longo de décadas. A ideia de que existe uma única forma válida de técnica é algo que está sendo questionado — e acho que isso dialoga com o que Dante Galeffi chama de polilógica, ou seja, múltiplas lógicas possíveis de convivência.
Quando nosso colega aqui falou sobre trazer Gilberto Gil ou Krenak para a filosofia, é porque ainda não temos instrumentos para validar essas diversas formas de conhecimento. Falta-nos reconhecer que existem múltiplos espaços de desenvolvimento da técnica, não apenas aquele que estamos acostumados a afirmar como dominante.
E aí queria te perguntar:
o que é que te leva, em 2025, pela sua experiência de vida, a enfatizar tanto essa necessidade de abertura?
Onde nasce o seu diálogo com outras técnicas?
De onde vem essa sua saída de uma visão que restringe, para agora sugerir que existem outras formas de ver e participar — e inclusive fazer um convite à filosofia?
Você sai da filosofia, vai para a comunicação, e agora percebe que precisamos voltar para a filosofia. E você encontra esse caminho de retorno a partir da tecnologia, que é algo relativamente novo. E isso me fez lembrar a palavra “cibernética”: um grego, amigo meu, diz que para eles o termo é imediato, translúcido — eles entendem o conceito de primeira. Mas quando tentam explicar em outras línguas — neolatinas, asiáticas — o termo não ganha a mesma dimensão.
Então, fico pensando:
onde é que você ancora sua forma de “flutuar” a filosofia através das ciências tecnológicas?
Porque, de certa forma, fica claro que você está muito interessado nessa cultura.
Resposta
Boa pergunta, Igor.
E ela se conecta com algo que um colega mencionou antes — sobre a onça. E fiquei o tempo inteiro pensando: por que não perguntar à onça?
⭐ Esse é, para mim, o ponto decisivo da cosmotécnica.
A visão predominante — moderna, ocidental — simplesmente não consegue conceber a ideia de perguntar à onça. É inconcebível. Por quê?
Porque a centralidade do discurso é humana.
Porque atribuímos agência apenas ao humano.
Então, o dado gerado pela onça — seja um rastro, um movimento, uma presença — não é reconhecido como dado “dela”, mas como dado sobre ela. Ela não tem agência própria na nossa forma de organizar conhecimento. E isso vale também para uma montanha, um rio, ou até mesmo um objeto técnico como o celular.
Estava relendo recentemente a entrevista entre Yuk Hui e Viveiros de Castro, e há um trecho em que Viveiros questiona a classificação de Latour sobre os “modos de existência”. Latour coloca a técnica como um modo tipicamente humano, e Viveiros reage: para os povos ameríndios, técnica não é exclusiva do humano. A onça tem técnica. A anta tem técnica. O rio tem técnica.
⭐ Ou seja: o problema não é a onça, é a nossa incapacidade cosmológica de reconhecê-la como sujeito técnico.
Como dizia João do Vale:
“A ciência da abelha muita gente desconhece.”
Por isso considero o termo cosmotécnica poderoso: ele permite multiplicar ontologias.
Não estamos mais falando de multiculturalismo — que, no fundo, é uma farsa, pois pressupõe que uma cultura dominante “tolera” ou “adiciona” outras culturas como variações decorativas de si mesma.
O multinaturalismo, ao contrário, é disruptivo:
ele diz que o mundo não é um só, que há múltiplas naturezas, múltiplos mundos coexistindo e produzindo técnica.
E embora seja difícil incorporar isso epistemicamente no cotidiano acadêmico, na prática vivida ele já acontece — e aqui na Bahia isso é evidente.
Vá a uma Lavagem do Bonfim:
há o sagrado, o profano, o sexual, o comercial, tudo coexistindo, performando múltiplas ontologias sem hierarquia. Ou pense no baiano comum:
Mariano está com problema de saúde.
Vai ao médico.
Não deu certo.
Vai ao terreiro.
Depois toma uma garrafada.
Depois vai ao centro espírita.
Ele não exclui explicações — ele conjuga experiências.
Isso não é relativismo; é pragmatismo ontológico.
⭐ É exatamente o tipo de experiência que a academia tem dificuldade de reconhecer como epistemologia.
Claro, agora há um movimento forte de reconhecimento dos “saberes tradicionais”. É importante. Mas tem acontecido muito mais como gesto simbólico do que como transformação real do modo como produzimos conhecimento.
A pergunta que importa é:
Como transformar isso em outra forma de relação com o saber?
E é aí que acho a aposta do Yuk Hui interessante.
Porque ele parte de um ponto central: o ocultamento da técnica moderna. A tecnologia tornou-se tão eficiente, tão universalizada, tão automática, que internalizamos a ideia de que não há alternativas.
E isso produz o que ele chama de inconsciência tecnológica.
Vivemos como se:
- “não houvesse o que discutir”,
- “não houvesse o que fazer”,
- “não houvesse outros caminhos”.
Esse é o mesmo raciocínio que acomoda as pessoas à ideia de que, se os dados estão na Big Tech, então “é assim mesmo”. Ou que as IAs “vão dominar”, não importa o que façamos. É uma espécie de escatologia tecnológica — que tanto promete o paraíso quanto o inferno.
E é justamente aí que cosmotécnica faz sentido:
⭐ a técnica é sempre articulada a uma cosmologia — portanto, a futuro, tempo, destino, permanência ou extinção.
A discussão é sempre, no fundo, sobre o tempo da nossa permanência:
sobre como queremos existir e coexistir.
E é por isso, Igor, que hoje — em 2025 — eu insisto tanto nessa abertura.
Porque a técnica digital ganhou uma dimensão que toca diretamente no sentido de futuro, de mundo e de vida. Não dá mais para pensar técnica sem pensar cosmologia.
E, ao mesmo tempo, não dá mais para pensar filosofia sem pensar técnica.
⭐ A minha “volta” à filosofia pela via da tecnologia não é um retorno, mas uma transição — uma metamorfose. É reconhecer que a técnica se tornou o terreno onde as ontologias estão sendo disputadas.
E é nesse terreno que eu quero estar.
Pergunta da Ana
Eu fui extremamente provocada. O Igor me ajudou a falar, porque eu vinha justamente com essa provocação.
Da sua fala, eu achei muito interessante esse paralelo entre técnica e produção de mundo. Porque, quando a gente pensa o tempo todo — e você diz que esse tempo tem potencial para criar mundos — eu fiquei pensando: por quê?
Porque, de certo modo, você está atribuindo à técnica a própria produção do mundo, como se fosse algo circular: o humano ou o não humano produz a técnica, a técnica produz o mundo e, em seguida, esse mundo retroage sobre quem produz a técnica. É como se a técnica fosse capaz de produzir mundo.
Quando você cita o McLuhan — “o meio é a mensagem” — você está dizendo que, a partir do meio em que vivemos, se constrói uma certa qualidade de experiência, uma ambiência que molda a produção de conhecimento. E aí você traz a ideia de ecologia cognitiva.
Então eu fiquei pensando: precisamos refletir melhor sobre isso.
Porque, para mim, não é simplesmente que “voltamos” à oralidade. Na oralidade, podemos pensar algo não linear, até um tempo circular. Já a escrita é linear, implica decifração, registro, objetivação de fatos que ganham significado semântico, que depois chamamos de informação.
Para mim, informação é esse “tijolinho” que cabe na sua construção de conhecimento — isto é, depende de como você construiu esse conhecimento. O conhecimento das sociedades “tradicionais” (que não são extemporâneas, elas estão aqui conosco) é outro tipo de construção, mas também produz conhecimento, mesmo quando não passa pela escrita acadêmica.
Hoje, produzimos também conhecimento em rede digital. Então, para mim, não é “uma coisa ou outra”: oralidade, escrita, digital. É uma questão dessa tal ecologia cognitiva, das relações entre essas formas.
A minha sensação é que tudo traz em si o seu contraponto.
Porque, se você pensa a produção de conhecimento em rede, e pensa essa sequência “mão–teclado–tela–rede–tela–teclado–mão”, você tem uma percepção um tanto empobrecida sensorialmente. Há uma limitação dos sentidos: usa-se muito a visão, a audição em certa medida, a digitação… mas não se integra toda a experiência sensorial que o corpo poderia proporcionar.
Falta o olho no olho, o corpo inteiro em presença.
É como se a relação que se produz nesse espaço digital fosse “achatada”, empobrecida sensorialmente.
A inteligência artificial, por outro lado, está trazendo novas alternativas. Quando vejo você, André, fazendo coescritas e usando “robozinhos” para discutir com autores, eu sei que você leu aquelas obras, ou boa parte delas. Mas quando vejo os estudantes que estão chegando à universidade, e queremos discutir um texto, muitos têm dificuldade com duas ou três páginas, porque tudo tem que ser muito rápido, muito raso, tudo tem que vir “mastigado”.
Então a minha pergunta é:
como interferir nessa tal ecologia cognitiva para trazer as duas coisas ao mesmo tempo — a riqueza de possibilidades e o corte de possibilidades que o meio também representa?
Resposta
Isso que você traz, Ana, me lembra muito o Flusser — o “velho” Flusser.
Quando comecei a escrever minhas colunas no jornal, eu passei a explicitar:
“Gente, estou usando IA, porque isso me ajuda a tornar o texto mais acessível.”
Depois, o processo foi se tornando quase simbiótico. Em muitos momentos eu já não conseguia distinguir claramente o que era “meu” e o que era “da IA” em certos trechos. A escrita passa a nascer desse movimento de ida e volta: eu proponho, a IA devolve, eu reescrevo, às vezes a IA sugere algo inesperado, eu aceito ou recuso.
Mas, no fim, tudo passa pelo meu crivo, pelo olhar de alguns amigos, de outras pessoas. É esse circuito que decide:
“Ok, isso aqui faz sentido, permanece.”
Eu não assino autoria conjunta com a IA — isso ainda é um tema em disputa, e a gente tem discutido isso em livros, artigos, conversas. É uma questão aberta: como pensar autoria quando o gesto de escrever se torna recursivo com máquinas?
Fui a Flusser justamente para tentar entender isso.
Quando li A escrita – Há futuro para a escrita?, de 1989, tomei um susto: ele já falava de algo muito próximo da IA — da automatização do gesto de escrever e da passagem da escrita linear para outros tipos de codificação. Ele diz, por exemplo, que o gesto da escrita manuscrita perde centralidade; que o teclado (ou outros dispositivos) mudam o modo como sentido é produzido.
Então, sim, precisamos remodelar a experiência educacional partindo do pressuposto de que o “texto” não é mais só aquele a ser lido e resumido. Talvez o ponto não seja apenas “ler o texto”, mas discutir problemas, criar situações de experiência, multiplicar formas de abordar uma questão: oralmente, visualmente, com práticas coletivas, com IA, sem IA.
O desafio é:
como nos organizamos para discutir isso de modo consequente?
A última coluna que escrevi sobre IA e ensino superior tentava provocar exatamente essa questão. Nos EUA, já tem gente questionando o próprio sentido do diploma, se ele estiver baseado apenas em análise de texto, produção de texto, tudo mediado por IA, sem contato humano, sem experiências, sem diversidade de linguagens, sem corpo.
Se o ensino virar só texto + IA, sem prática, sem presença, sem conflito produtivo, a gente entra num modelo muito estranho — e, eu diria, arriscado.
Ao mesmo tempo, vejo uma certa arrogância de quem fala sobre IA sem experimentar minimamente o que ela pode fazer. Ou usa uma vez, de modo superficial, para confirmar o preconceito. Na filosofia, imagino que esse debate esteja pegando fogo — e tenho curiosidade de ver como vocês estão lidando com isso.
Sobre ecologia cognitiva: é um conceito que deriva de Gregory Bateson e da cibernética, da ideia de que sistemas de comunicação, feedback e contexto remodelam continuamente o sistema. McLuhan não usa exatamente o termo, mas quem trabalha com ecologia da mídia aproxima essas ideias.
Quem eu vi usar mais diretamente “ecologia cognitiva” foi o Pierre Lévy, em Tecnologias da Inteligência. Depois ele desloca para “Inteligência Coletiva” e, mais tarde, para a Web Semântica. Mas a intuição dele permanece importante: a inteligência não é só individual, ela é coletiva e situada.
E aí isso se encontra com o que estávamos chamando de localidade:
Bruno Latour, com a questão de “onde aterramos?”, e o próprio Yuk Hui, insistem que não há reconstrução possível sem pensar o lugar.
Acho que essa consciência do lugar — do corpo, da experiência, da terra — é exatamente o que está desaparecendo, como você descreveu tão bem. E ela precisa ser recolocada no centro.
Réplica da Ana
Sem o experiencial, sem o público, sem a prática — sem “pé no chão, mão na terra” — fica faltando algo essencial.
Talvez por isso o reconhecimento dos notórios saberes seja tão importante. Não só como gesto simbólico e político, mas porque, se formos ver o que essas pessoas estão fazendo, elas estão reconstruindo e regenerando ecossistemas, criando possibilidades concretas para as comunidades, traduzindo o mundo de outras formas.
Quanto mais investimos numa produção de conhecimento muito mediada por telas e dispositivos, e nos afastamos do vivido, do experienciado, do prático, parece que o conhecimento construído se torna “outro” — mais abstrato, mais dissociado da vida.
E se a gente pensa que fazer uma técnica é colonizar, então podemos estar, dentro dessa técnica colonizada, reproduzindo colonização sem perceber.
Resposta Final
Posso só fazer um ajuste rápido, antes de encerrarmos?
Eu citei três músicas do Gil, mas, na verdade, levantei doze canções para essa leitura cosmotécnica. Não ia dar tempo de analisá-las todas, mas pelo menos quero nomear algumas para o debate continuar depois.
Depois de “Futurível”, tem “Cibernética”, em que ele, em diálogo com um amigo ligado à tecnologia e à filosofia, já começa a mudar a posição em relação a certos pontos — dá para ver um deslocamento na maneira como ele pensa máquina, controle, liberdade.
Nos anos 70, ele mergulha na filosofia oriental, numa perspectiva taoísta, aproxima-se do I Ching, de experiências místicas e psicodélicas, e vai reconstruindo uma visão muito própria, poética, que mistura tudo isso com a realidade brasileira.
Depois, ele retoma a questão da técnica de forma mais explícita.
Tem “Queremos Saber”, uma canção central de questionamento sobre ciência, tecnologia e seu uso político. Mais tarde, já nos 90, vem “Parabolicamará”, que é, para mim, um marco na leitura da mídia e da comunicação de massa em chave tropical.
O disco Quanta é central nessa discussão:
é quase um tratado, colocando em diálogo cosmologia, física quântica e espiritualidade, sempre a partir de um lugar brasileiro, mestiço, sincrético.
Mais recentemente, já nos anos 2000, ele lança “Banda Larga Cordel”, onde aproxima tecnologia digital, internet e política — e aí a experiência dele como ministro aparece como pano de fundo. O gesto tropicalista não é fugir da técnica nem da indústria cultural, mas invadi-las, como eles fizeram com TV, rádio, festivais, gravadoras — Gil, Caetano, Tom Zé, Mautner, todo esse grupo.
Em paralelo, estou relendo Verdade Tropical, do Caetano. O nível de elaboração teórica e sensibilidade é impressionante — e sempre em movimento, nunca fechando a questão, sempre abrindo, atravessando música, política, corpo, mídia, memória.
Aqui na UFBA mesmo tivemos, há pouco tempo, um evento sobre a filosofia de Tom Zé. Acho que dá para multiplicar isso: olhar para o funk, o tecnobrega, o trap, a música de periferia, a cena baiana contemporânea… a BaianaSystem… tudo isso como laboratório de cosmotécnicas brasileiras.
E é curioso: se você pegar alguém como o Heidegger, ele vai à poesia, cita Hölderlin, Trakl, etc. E nós, muitas vezes, ficamos com vergonha de ir atrás dos nossos poetas, cantadores, compositores — justamente num momento em que a centralidade da perspectiva europeia está sendo contestada.
Talvez o mínimo que a gente tenha que fazer agora é olhar para eles com carinho, reconhecer limites, excessos, mas também perceber ali caminhos de abertura.
Acho que precisamos encerrar. São 15h43, a próxima mesa é às 16h; ainda dá tempo de um café.
Muito obrigado a todas e todos.
Bonus track
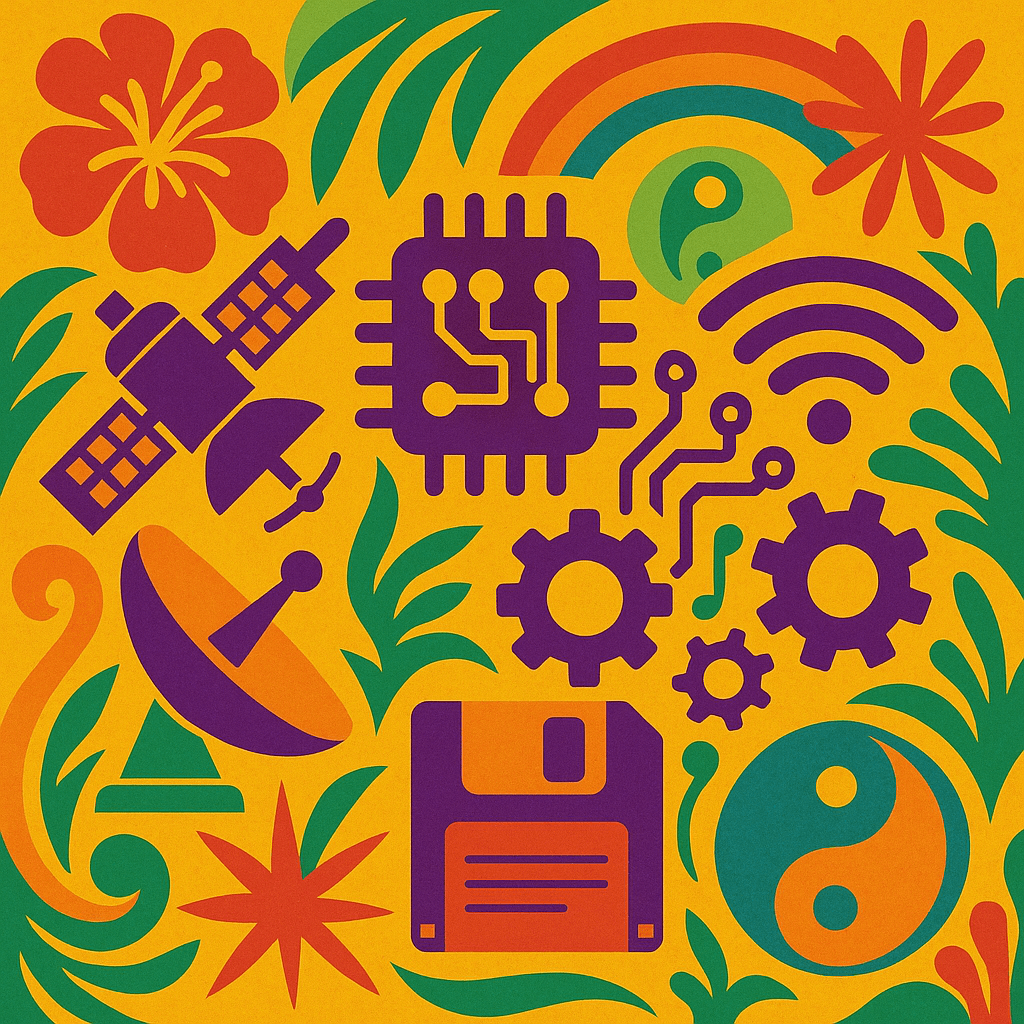
Deixe um comentário